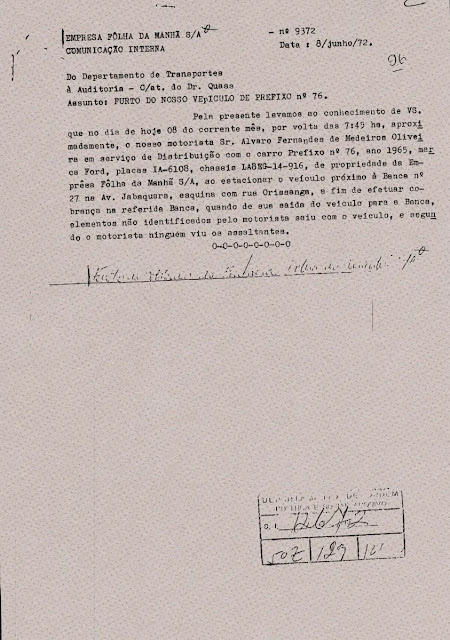Reprodução/Veículos da Folha que teriam participado da repressão foram incendiados pela ALN
Emboscada com caminhão da Folha
Segundo
relatos, o episódio mais emblemático ocorreu no dia 23 de setembro de 1971 em
frente ao número 2.358, da Rua João Moura, Sumarezinho, Zona Oeste da capital
paulista, quando três guerrilheiros da Ação Libertadora Nacional (ALN) foram
atraídos para uma cilada e acabaram surpreendidos por policiais que
repentinamente teriam saltado de dentro de uma camioneta baú da frota da Folha.
Sobrevivente da emboscada, a militante Ana Maria Nacinovic Corrêa, então com 25
anos, assassinada dez meses depois, contou a dirigentes da ALN, que o grupo
guerrilheiro, como havia feito em outras ocasiões para se apossar de armas de
policiais descuidados, cercou um jipe do Exército aparentemente quebrado e com
apenas um soldado vigiando, sem dar importância para um pequeno caminhão da
Folha que estaria estacionado próximo. Assim
que renderam o soldado, que portava displicentemente uma arma longa (fuzil ou
metralhadora), os militantes da ALN teriam sido surpreendidos pelos agentes.
Eles teriam descido atirando, ferindo três militantes da organização que
constam nas listas de desaparecidos políticos: Antônio Sérgio de Matos, Eduardo
Antônio da Fonseca e Manoel José Nunes Mendes de Abreu. A pesquisa da Unifesp
acrescenta ao episódio o depoimento que Suzana Lisboa, ex-militante da ALN,
ex-integrante da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e viúva
de um ex-militante da mesma organização, Luiz Eurico Tejera Lisboa, morto pela
polícia em 1972, deu à Comissão Nacional da Verdade em 2014. “(…) um carro baú
[…] da Folha de São Paulo. Esse é um dos momentos em que há participação direta
da empresa “Folha de São Paulo” no assassinato de militantes da ALN. Na época
eu convivia aqui em São Paulo e ouvia essa informação de dirigentes da ALN”,
afirma ela. Marival
diz que com poucos recursos oficiais à época, os órgãos de repressão buscavam
apoio material de empresas. As camionetas baú da Folha eram práticas porque as
portas abriam toda a parte traseira, permitindo mobilidade aos agentes. “A
Folha participava, dava colaboração às operações de rua, especialmente aquelas
(…) de cobertura de pontos, onde as pessoas que entravam morriam”, afirma o
ex-agente, lembrando de apenas um dos episódios que teve sobrevivente. “(…)
houve um caso, por exemplo, no restaurante Varela, na Mooca (…) de Antônio Carlos
Bicalho Lana. Ele conseguiu romper o cerco com uma metralhadora, a tiros etc.
Mas a maioria morreu”, relata. Na
emboscada, em 16 de julho de 1972, morreram Ana Maria Nacinovic, Iuri Xavier
Pereira e Marcos Nonato da Fonseca. Lana seria assassinado em São Vicente,
litoral Sul de São Paulo, em outro cerco, em 30 de novembro de 1973 junto com a
também militante da ALN Sônia Angel Jones, nora da estilista Zuzu Angel, morta
em acidente misterioso enquanto procurava pelo paradeiro do filho, Stuart Angel
Jones, também executado. A
informação de que carros da Folha foram usados nas operações policiais surgiu
depois que a ALN investigou caminhões de distribuição da Ultragaz, que também
se envolveu no apoio ao regime militar. A denúncia partiu de uma militante da
organização que, presa em 1970, viu que outro empresário, o dinamarquês Henning
Albert Boilesen, integrante do GPMI (Grupo Permanente de Mobilização
Industrial) criado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)
para fornecer insumos e equipamentos à ditadura, era presença frequente na sede
da Operação Bandeirantes (OBAN), centro de tortura no Bairro Paraíso, Zona Sul
da capital paulista. Sônia
Hipólito Lichtsztejn contou à Pública que percebeu tratar-se do mesmo homem que
vira várias vezes andando de uma sala a outra, assistindo sessões de tortura e
dando ordens como se estivesse fiscalizando as atividades policiais na Oban
quando deixou a prisão, sob condicional, em julho de 1970. “Estava em casa,
folheando uma revista quando vi uma foto dele numa reportagem. Levei um susto.
Mostrei a revista a outra amiga e ela confirmou”, conta Sônia, que alertou seu
contato mais próximo na ALN. Ela mesma participou do levantamento, que demorou
meses até que o empresário fosse plenamente identificado e executado numa ação
da ALN e Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT) no dia 15 de abril de 1971
na Alameda Casa Branca, Jardins, a poucas quadras da casa do empresário, na Rua
Estados Unidos. Ela relata que não participou do “justiçamento”. Reprodução/Henning
Albert Boilesen, da Ultragaz, foi morto a tiros em São Paulo: empresário
defendia ajuda financeira e logística ao aparato da repressão política
O
levantamento da ALN apontou que Boilesen apoiava ostensivamente a polícia com
equipamentos, dinheiro arrecadado de outros empresários, era presença assídua
nos porões e cedia para a polícia os caminhões da empresa Ultragaz, de
distribuição de gás na cidade. Esse detalhe levou a ALN a confirmar através de
checagens e pelo relato de militantes presos ou sobreviventes, que os carros da
Folha também teriam sido usados como disfarce em circunstâncias parecidas.
Boilesen e Frias de Oliveira entraram na mira da organização no mesmo período.
“O Frias ficou com medo, mas não seria assassinado. O plano era sequestrá-lo e
trocá-lo por companheiros presos”, contou à Pública o jornalista e ex-preso
político, Ivan Seixas, que pertencia ao MRT e hoje é ativista dos direitos
humanos.
Em
duas ações distintas, uma em 21 de setembro de 1971 e a outra no dia 26 do mês
seguinte, com o objetivo de denunciar os donos da Folha, a ALN incendiou três
camionetas do jornal. Num comunicado publicado no periódico Venceremos, da
organização, também acusou a Folha de entregar ao CODI uma “lista suja” com
nomes de funcionários suspeitos de subversão demitidos.
A
reação da Folha foi um editorial com o título de “Banditismo”, publicado na
primeira página, escrito e assinado de forma inédita pelo próprio Frias,
afirmando que as ameaças não alterariam “a linha de conduta” do jornal e
argumentando que o país tinha “um governo sério, responsável e com indiscutível
apoio popular”. Quando o segundo carro foi destruído, o dono da Folha
afirmou que as ações da ALN seriam reações à “firme e consciente posição” do
jornal na “veemente condenação do terrorismo”. A ALN reforçaria as ameaças,
alertando que seu “justiçamento” era uma questão de tempo. Frias mudou-se,
então, com toda a família para o prédio da Folha, na Barão de Limeira, e teria
passado a contar com um aparato de segurança do próprio Departamento de Ordem
Política e Social (DOPS), o que reforçaria a relação íntima do jornal com
policiais iniciada bem antes das ameaças. Reprodução/Editorial
inédito assinado por “seu Frias”, dono do jornal, foi publicado na primeira
página em 1971
Os
pesquisadores da Unifesp/Caaf entrevistaram outras três testemunhas que viram
os carros da Folha em diferentes ações dos órgãos da repressão nas ruas. Ivan
Seixas, que foi preso aos 16 anos, junto com o seu pai, Joaquim Alencar Seixas,
contou ter estranhado a presença de carros de distribuição de jornal da Folha
estacionados na rua em frente à OBAN, na Rua Tutóia. “Carro de transporte de
jornal parado na frente de uma delegacia? Tem alguma coisa errada. E a
reincidência foi muito grande. Depois, vários companheiros relataram que foram
até transportados por carros da Folha”, disse ele. Relato semelhante foi feito
pelo jornalista Francisco Carlos de Andrade, que afirmou ter visto carros do
jornal enfileirados no pátio da OBAN. O ex-deputado Adriano Diogo, detido junto
com sua mulher, Arlete, contou aos pesquisadores que um carro da Folha ficou
estacionado próximo à sua casa várias horas antes da invasão da polícia. Na
direção de jornalismo do grupo, embora o assunto fosse incômodo, a maioria
sabia da colaboração, indicam documentos e depoimentos. “(…). A Folha ajudava a
fazer isso materialmente, não era ideologicamente. A história não pode ignorar
isso, embora a Folha negue. […] a Folha apoiou os atos mais escabrosos [da
ditadura], mais desumanos. Nada retirará esse caráter essencial do papel da
Folha”, disse o jornalista Jorge Okubaro que, como secretário de redação da
Folha da Tarde, participava das reuniões de pauta diárias. A versão é
confirmada por outros três jornalistas, Antônio Carlos Fon, Wianey Pinheiro, à
época repórter da Folha e presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo,
e José Luiz Proença, assim como dois agentes dos órgãos de repressão, os delegados
Cláudio Guerra e Carlos Alberto Augusto, este conhecido como Carteira Preta e
Carlinhos Metralha. Carteira foi homem de confiança do delegado Sérgio Fleury. Em
entrevista aos pesquisadores, o policial valoriza o trabalho realizado pelo
Grupo Folha e defende que os dirigentes sejam recompensados por conta de seus
préstimos à ditadura: “Todo mundo que ajudou na repressão tem que ser
indenizado (…) Sem sombra de dúvidas. E com muito dinheiro. Porque o que estão
fazendo com ele aqui agora, estão querendo denegrir a empresa dele (…) Tem que
ser indenizado sim. E com muito dinheiro, tem que levantar o jornal”. Coordenadora
da pesquisa, a jornalista Ana Paula Goulart, historiadora e professora de
comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), frisa que não tem
nenhuma dúvida que o Grupo Folha emprestou seus veículos às operações de caçada
aos militantes de esquerda e diz que embora Caldeira tenha sido responsável
pela frota de veículos do jornal e personagem tão próximo ao regime militar que
acabou sendo indicado prefeito biônico de Santos, no litoral Sul de São Paulo,
a pesquisa aponta que a responsabilidade é dos dois sócios. “Tentam jogar para
o Caldeira, mas os dois sabiam o que cada um fazia. O Caldeira não tomaria uma
decisão dessa sem a anuência dos Frias”, conclui. A
pesquisadora sustenta, também, que a colaboração acabou sendo atestada de forma
contundente pelo filho do dono do grupo, o ex-diretor de redação da Folha,
Otavio Frias Filho, conhecido no meio jornalístico como Otavinho, num
depoimento para a biografia do pai ao jornalista Engel Paschoal, autor de A
trajetória de Octavio Frias de Oliveira, publicado em 2007 pela editora do
jornal, a Publifolha, trecho resgatado pela pesquisa. “Depois de conversar com
o meu pai (e) até com gente que teve ligações com a guerrilha naquela época, eu
diria que sim: os caminhões de transporte da Folha foram usados por equipes do
DOI-Codi para fazer campana e até prender guerrilheiros, ou supostos
guerrilheiros”, disse Otavinho, conforme consta na página 157 da obra. Os
“supostos guerrilheiros” deve-se, naturalmente, à recusa de Frias pai em
reconhecer o caráter político das ações armadas de oponentes do regime, como o
empresário deixou claro num editorial de 30 de junho de 1972, com o provocador
título “Presos Políticos?”. Nele, critica seu concorrente, o jornal O Estado de
S. Paulo, por defender tratamento especial a “criminosos” que “mais não são que
assaltantes de bancos, sequestradores, ladrões, incendiários e assassinos”. A
declaração de Otavinho, que morreu em 2018, é a única da família Frias
reconhecendo a colaboração. Seu pai, Frias de Oliveira, faleceu em 2007 sem
nunca ter admitido a cessão dos carros. Numa reportagem do próprio jornal por
ocasião dos 100 anos da Folha, em 2021, foi reproduzida uma entrevista antiga
de Frias de Oliveira em que havia afirmado que “se isso ocorreu”, foi à sua
revelia, e negou ter colaborado com os órgãos de repressão. Reprodução/Declaração
de Otávio Filho reconhecendo a colaboração com a ditadura em 2007
Atrelamento
da linha editorial à ditadura
A
pesquisa é parte do projeto “A responsabilidade de empresas por violações de
direitos durante a ditadura”, que além da Folha incluiu outras nove empresas e
envolveu, no total, 55 pesquisadores selecionados através de edital pelo Centro
de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF), da Unifesp, em parceria com
Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de São Paulo,
material que foi obtido com exclusividade pela Pública. No
caso da Folha, a pesquisa durou quase dois anos, ao longo dos quais, entre
jornalistas, militantes políticos, ex-agentes e empresários, foram
entrevistadas mais de 40 pessoas, além de terem ocorrido buscas em arquivos
públicos, bibliografia e em jornais. Boa parte das informações sobre a
colaboração da Folha com a repressão e a relação íntima da redação do jornal
com policiais constam no livro Cães de Guarda – jornalistas e censores, do AI-5
à Constituição de 1988, publicado em 2004 pela pesquisadora Beatriz Kushnir,
que contou parte desta história, também listado na bibliografia da pesquisa da
Unifesp/Caaf. As informações coletadas pela pesquisa da Unifesp reforçam as
presenças de Frias e Carlos Caldeira na conspiração para o golpe, no apoio
material à repressão política, no atrelamento da linha editorial à ditadura por
um longo período. Demonstram ainda que os negócios de Frias e Caldeira
cresceram no período. Documentos
encontrados no Arquivo Nacional, aos quais a Agência Pública teve acesso,
indicam que Octavio Frias de Oliveira mantinha relações muito próximas com as
entidades que conspiraram pelo golpe de 1964 e depois apoiaram sem restrições a
ditadura. Trata-se de um recibo de contribuição de Frias ao Instituto de
Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), entidade que conspirou pelo golpe e atuou
na manutenção do regime militar, em valores da época, de Cr$ 12.000 [em valores
atuais, pelo IGP-DI, R$ 207 mil], com data de 16 de julho de 1967, e de um
outro papel em que o dono da Folha é identificado como “Sócio do IPES” no
período “pré-64”. Ao jornalista Oscar Pilagallo, autor do livro História da
Imprensa paulista: jornalismo e poder de D. Pedro I a Dilma, Frias não negou a
relação com a entidade golpista, mas argumentou que havia participado apenas de
uma única reunião com outros ipesianos na casa do banqueiro José Adolpho da
Silva Gordo, do Banco de Investimento do Brasil.
 Reprodução/Recibo
de contribuição de Frias ao Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES)
Reprodução/Documento
em que o dono da Folha, “seu Frias”, é identificado como “Sócio do IPES”
Numa
análise às edições da Folha de S.Paulo anteriores ao golpe, os pesquisadores
debruçaram-se sobre um material para contextualizar o período: um suplemento de
44 páginas, intitulado 64 – Brasil continua, publicado como encarte do jornal
exatamente no dia do golpe, 31 de março de 1964, cujo conteúdo, afirma a
pesquisadora Ana Paula Goulart “é repleto de anúncios e textos opinativos que
evidenciam um claro protagonismo exercido pela Folha nas articulações golpistas
e a forte sintonia político-ideológica do grupo com o empresariado local,
nacional e internacional”. Reprodução/Suplemento
de 44 páginas publicado como encarte do jornal no dia do golpe, 31 de março de
1964
Reprodução/Suplemento
de 44 páginas publicado como encarte do jornal no dia do golpe, 31 de março de
1964 Reprodução/Suplemento de 44 páginas publicado como encarte do jornal no dia do golpe, 31 de março de 1964
A
pesquisa destaca que, nos dez primeiros anos do regime, o jornalismo da Folha
também produziu significativas campanhas conclamando a população a “seguir com
otimismo os preceitos da assim chamada ‘revolução democrática’ e assumiu um
papel ativo no que foi denominado de ‘caça aos terroristas’”. A oposição
armada, segundo o jornal, “ameaçava a soberania nacional e deveria ser
combatida a partir de um esforço coletivo”. Na ocasião das comemorações de 50
anos da empresa, em 1971, a Folha afirmava se manter “profundamente
identificada” com os rumos da nação, ao acompanhar “os esforços da Revolução de
64 para a reconstrução do Brasil”. Reprodução/Segundo
os pesquisadores, Jornal assumiu um papel ativo na ‘caça aos terroristas’
A
manchete antecipada de um assassinato
Todos
os jornais do grupo seguiram a linha editorial da Folha de apoio à ditadura.
Mas nenhum teria chegado ao nível da Folha da Tarde em colaboração e
subserviência ao regime militar, segundo depoimentos de jornalistas que
trabalhavam no veículo consultados pela Pública. No dia 17 de abril de 1971, em
sua manchete o jornal noticiou em letras garrafais: “Morto o assassino do
industrial Boilesen”. O texto da chamada informava que no dia anterior, os
órgãos de segurança interna, “agindo com rapidez identificaram no dia anterior”
Joaquim Seixas como um dos participantes da execução de Boilesen, ocorrida dois
dias antes. A
notícia informava que, cercado pela polícia, Seixas reagiu e acabou sendo morto
no tiroteio com a polícia. O problema é que no dia anterior vários presos viram
Joaquim e Ivan, então com 16 anos, serem retirados do interior de uma viatura,
espancados já no pátio da Oban e depois torturados. O jornal começou a circular
na manhã do dia 17, mas Seixas só morreria em consequência de choques e
espancamentos por volta das 19h do mesmo dia 17. À Pública, Ivan Seixas conta
que viu, de dentro de uma viatura, a manchete num exemplar pregado à parede de
uma banca de jornal em frente ao bar em que os policiais pararam para tomar
café no retorno de uma simulação de seu próprio fuzilamento. “Quando cheguei de
volta à Oban, vi meu pai sentado na cadeira do dragão [assento de choque
elétrico] sendo torturado, mas vivo”, conta o jornalista. A Folha da Tarde,
segundo ele, pesava a mão contra a esquerda, mas ele faz questão de lembrar que
outros jornais também publicavam falsas notícias produzidas pela polícia.  Reprodução/Folha
da Tarde noticiou em letras garrafais um assassinato que ainda não havia
ocorrido
As
pesquisas indicam que a Folha da Tarde se tornou no período o veículo mais
próximo dos órgãos de repressão, publicando em profusão, sem o menor filtro,
versões oficiais que interessavam à polícia política. Isso ocorreu também com
outros presos, como no caso envolvendo Eduardo Collen Leite, o Bacuri, da mesma
ALN, detido em 21 de agosto de 1970 no Rio e levado para São Paulo, onde a
equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury o matou em 8 de dezembro, depois de
um longo calvário de torturas. A
manchete de 9 de dezembro de 1970 não deixava dúvidas sobre a posição da Folha
da Tarde. “Terror: Metralhado e morto outro fascínora”. Linha de frente da
esquerda armada, o militante havia participado do sequestro de embaixadores que
seriam trocados pela libertação de presos políticos, entre os quais estava sua
mulher, Denise Crispim, grávida. A matéria informou que o “bandoleiro” morrera
num confronto com a polícia em São Sebastião, no litoral Sul de São Paulo,
embora seus companheiros de cárcere tenham protestado com gritos e muito
barulho nas ferragens das grades quando ele foi retirado da cela em estado
físico deplorável no dia 27 de outubro, dois dias depois de mais uma falsa
notícia de que teria fugido. A Folha da Tarde se superava a cada edição na
adjetivação, denominando militantes políticos de “facínoras”, “assassinos”,
“maníacos” e “loucos”. Reprodução/Folha
da Tarde chamava militantes políticos de “facínoras”, “assassinos”, “maníacos”
e “loucos”
Por
mais que a família Frias tenha tentado separar a Folha da Tarde da linha que
viria a ser adotada pela Folha a partir de 1974, a pesquisa mostra que,
resguardada as peculiaridades de cada veículo, “havia uma direção editorial
uniforme no interior do conglomerado jornalístico liderado pelos empresários
Octavio Frias e Carlos Caldeira” no período. Além disso, o nome de Frias de
Oliveira se destacava como diretor-presidente no cabeçalho da primeira página
da Folha da Tarde.
Policiais
jornalistas na Folha
Um
dos méritos da pesquisa da Unifesp foi reunir informações que estavam soltas em
livros, jornais e testemunhas da época para demonstrar que os jornais do grupo
estavam infestados de policiais atuando como jornalistas nas redações, ao menos
11, identificados pelos pesquisadores. O diretor da Folha da Tarde, no período,
foi o jornalista Antônio Aggio Júnior que era, ao mesmo tempo, funcionário da
Secretaria de Segurança Pública e, mais tarde, mas ainda no período repressivo,
assessor de imprensa do delegado e ex-senador Romeu Tuma, braço direito de
Fleury na área de informação do DOPS. Quando deixou a Polícia Civil para
construir carreira e perfil novos na Polícia Federal, Tuma era diretor do
departamento. Reprodução/Delegado
Sérgio Fleury teria atuado na segurança da Folha ao lado dos irmãos Quass
Segundo
a pesquisa, Aggio também teria se utilizado de um carro de reportagem da Folha
para camuflar a entrada de conspiradores num quartel às vésperas do golpe de
1964. Repórter da Folha à época, ele teria usado aparelho de telex da sucursal
da Folha no Rio para passar mensagens cifradas como senha do levante do II
Exército em São Paulo, seguindo instruções do coronel Antônio Lepiane, chefe do
Estado Maior da 2ª Companhia do Exército em São Paulo, que era seu padrinho e
foi o comandante da OBAN quando esta foi criada, em 1969, no início do governo
Emílio Garrastazu Médici. Aggio
assumiu a direção de redação da Folha da Tarde em 1969 imprimindo uma mudança
radical na linha editorial. Saíam de cena jornalistas progressistas, como Jorge
Miranda Jordão e o frade dominicano Carlos Alberto Libânio Christo, o Frei
Beto, ao mesmo tempo em que a redação contratava dois delegados, Carlos Antônio
Guimarães Sequeira, agente do DEOPS, e Antônio Bim, os investigadores Carlos
Dias Torres e Horley Antonio Destro, e um major da PM paulista, Edson Corrêa,
que chamava a atenção por circular pela redação com uma pistola automática à
mostra como se estivesse numa operação de rua. A
linha do jornal, que antes cobria segmentos como o movimento estudantil, passou
a ser de apoio irrestrito à ditadura militar e às forças de repressão. A
combinação de comando e linha editorial levou o jornalista Claudio Abramo,
ex-diretor da Folha, em seu livro de memórias, A Regra do Jogo, de 1988, a
qualificar a Folha da Tarde como “o jornal mais sórdido do país”. Mais bem
humorado, o jornalista Carlos Brickmann, que assumiu a redação ao lado de
Adilson Laranjeiras em substituição ao grupo de Aggio, escreveu em tom de fina
ironia que a grande conquista do novo comando foi ter conseguido “reduzir a
tiragem do jornal”, uma alusão a expressão “tiras”, como eram chamados os
policiais da época. Era também jocosamente qualificado como alusão “o jornal de
maior tiragem”, como registraria Beatriz Kushnir em Cães de Guarda. A
relação íntima entre polícia e jornalista não era, entretanto, exclusividade da
Folha da Tarde. Outro periódico do grupo, o Notícias Populares, o
sensacionalista NP, campeão de vendas em banca no período, era dirigido por
Jean Mellé, anticomunista de carteirinha e notório entusiasta das Forças
Armadas. Waldemar Ferreira de Paula, assistente de Jean Mellé, era policial.
Armando Gomide, que substituiu Mellé depois da sua morte, em março de 1970, era
policial e ligado ao Serviço Nacional de Informação (SNI). Sobre
ele, segundo a pesquisa, pesava a suspeita dos próprios colegas de que “nas
horas vagas” trabalhasse como agente secreto e informante dos militares. No
Departamento de Interior, Correspondentes e Sucursais (Dics) do Grupo Folha o
diretor era Paulo Nunes, que se dizia agente da PF. Na Agência Folha, que
substituiu o Dics, o comando foi entregue em junho de 1972 a Luiz Carlos Rocha
Pinto, delegado da Polícia Civil paulista contratado como jornalista,
tornando-se no período o principal interlocutor entre a empresa e a censura.
Depois de dez anos na Agência Folhas (departamento cujo nome depois perderia o
“s”), Rocha Pinto foi transferido para o departamento de circulação,
desligando-se do jornal só em 1995. Em 2005, ou seja, dez anos depois, ele
continuava recebendo o mesmo salário, mas sem trabalhar. A pesquisa registra
que a quem perguntava como conseguira tal privilégio, a resposta era lacônica:
“sou herói de guerra”. A
partir da retaliação da ALN, com sua inclusão na lista de “justiçáveis”, Frias
mudou-se para o 6º andar do prédio que abrigava os jornais, na Alameda Barão de
Limeira, Campos Elíseos, região central da capital e, segundo versão difundida
pela Folha, conforme a pesquisa, passaria a contar com proteção de dois
delegados do DOPS, os irmãos Robert e Edward Quass. A
pesquisa mostra, no entanto, que a relação dos Quass com a Folha seria bem
anterior à destruição dos carros pela ALN: Robert havia sido contratado em
janeiro de 1961, antes, portanto de Frias comprar a empresa, mas não apenas
como datilógrafo e recepcionista de noticiários como informou o jornal. Num
comunicado interno encontrado nos arquivos do DOPS, o responsável pelo setor de
transporte da Folha relata o furto de um dos veículos do grupo se referindo a
Quass como auditor da empresa. Outros dois membros da família, Joseph Quass e
Joseph Quass Filho, respectivamente, auxiliar de auditoria e auxiliar de
escritório, ambos ligados diretamente à direção da Folha, haviam sido
contratados em 1971 e 1970. Ainda de acordo com a pesquisa, os delegados
passariam a fazer a segurança da família, cuidando, entre outras tarefas, da
escolta dos dois filhos de Frias nas idas e voltas à escola, Otavinho e o atual
diretor do grupo, Luís Frias. Contratado como chefe de segurança patrimonial da
Folha, Edward passou a cuidar de todo o patrimônio do grupo e tinha uma sala
dentro do jornal.
Reprodução/Comunicado
interno do jornal sobre o furto de um dos veículos do grupo
A
pesquisadora Ana Paula Goulart anota no relatório: “A presença de tais
indivíduos atesta uma problemática relação de proximidade entre o Grupo Folha e
agentes que cumpriam funções significativas na engrenagem repressiva da
ditadura. A ameaça a Octavio Frias de Oliveira poderia justificar uma atenção
especial por parte da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, mas não
explicava a contratação, com vínculo trabalhista e remuneração direta, de
delegados do DEOPS para atuarem como funcionários da empresa
jornalística”. O
nome de outro agente, Messias Ayrton Scatena, carcereiro do DEOPS e jornalista
que começou no grupo pelo jornal Última Hora surgiria num rumoroso caso que tramitou
no Superior Tribunal Militar (STM), em 1973. Acusado de vazar informações
sigilosas de operações contra a subversão para sua namorada, a também
jornalista do grupo Helena Miranda de Figueiredo, Scatena chegou a ser preso.
Em seu depoimento ele afirmou que além de trabalhar no Grupo Folha,
“participava de serviços de repressão, combate a subversão e terrorismo”, tendo
atuado entre cinco a dez diligências no período de três anos em que exerceu o
cargo na delegacia”. O policial-jornalista dizia possuir, àquele momento, uma
relação próxima com Octavio Frias de Oliveira e os membros de sua família, uma
vez que ficou encarregado de trabalhar como seu motorista pessoal, além de
atuar como segurança de seus filhos. Disse também que os diretores do jornal depositavam
nele “grande confiança”, ao ponto de ter sido liberado da função de jornalista
da empresa “para se dedicar integralmente à segurança da família […] sem
prejuízo dos vencimentos”. De
acordo com o documento, a contratação de Scatena foi recomendada pelo seu
chefe, o delegado Edward Quass. É nesse depoimento, nas páginas 130 e 131 da
ação penal 829/73 aberta pela justiça militar, que ele cita o nome do delegado
Sérgio Fleury, afirmando que ele também atuava na segurança da Folha ao lado
dos irmãos Quass. O que se sabia era que Fleury tinha sido visto algumas vezes
na Folha, mas a justificativa é que era convidado de Aggio para algum evento
festivo. A
atenção de Frias aos militares ficaria clara também quando este, segundo a
pesquisa, a pedido de um major de relações públicas do II Exército, que falava
em nome do general Ernani Ayrosa da Silva, fundador da Oban, contratou como
jornalista da Folha da Tarde um ex-militante da Vanguarda Popular
Revolucionária (VPR), Rômulo Fontes, que durante os 18 meses em que permaneceu
preso, entre 1979 e 1971, se tornou um dos arrependidos de participar da luta
armada, prestando depoimentos contra a esquerda divulgados pela ditadura.
Fontes conseguiu o emprego e depois confirmaria: “Entrei para a Folha manu
militari”, conforme citação no livro de Pilagallo.
Licença
na prisão
A
pesquisa aponta perseguição política e violação aos direitos trabalhistas
contra jornalistas que trabalhavam no Grupo Folha e foram presos sob a acusação
de participarem de organizações da luta armada. O caso mais emblemático é o da
jornalista Rose Nogueira, que trabalhava como repórter da Folha da Tarde e, ao
ser detida em casa no dia 4 de novembro de 1969, estava de licença maternidade
34 dias depois de um complicado parto em que deu à luz seu primeiro filho. Ela
só descobriria anos depois que a demissão por justa causa, escrita à mão em sua
ficha funcional, tinha sido por “abandono de emprego”, uma justificativa
duplamente falsa, conforme relataria na entrevista concedida em maio de 2022
aos pesquisadores da Unifesp. “Foi uma das maiores dores da minha vida, ver que
a Folha me deu abandono de emprego enquanto eu estava presa! Quem preso vai
trabalhar no jornal? Quem, na licença maternidade vai? Eu estava com as duas
coisas: licença maternidade e prisão. Eu senti como uma punição. A Folha me
machucou muito. Eu já estava sendo punida. A Folha fica a duas quadras do DOPS.
Alguém poderia ter ido lá saber se era verdade. Eles me ignoraram e publicaram
o que a polícia mandou”, disse ela. A
matéria da Folha da Tarde relacionava Rose e seu ex-marido, Luís Roberto
Clauset, como pessoas próximas ao líder da ALN, Carlos Marighella, que havia
sido executado pela polícia no mesmo dia em São Paulo e, em ocasiões
anteriores, se refugiara na casa da jornalista. Ela não participava da luta
armada, mas nunca negou que deu apoio logístico a Marighella. Ficou nove meses
presa e, no final, acabou absolvida. Havia, no entanto, algo mais grave. “A
Folha falseou a data do nascimento do meu filho. Meu filho nasceu em 30 de
setembro de 1969. A Folha escreve (no ato de demissão) que meu filho nasceu em
9 de agosto (…) para me dar o abandono de emprego no começo de dezembro”,
disse. Reprodução/Reportagem
do jornal associou Rose e seu ex-marido ao líder da ALN, Carlos Marighella
Em
outros casos, como o de José Maria Domingues dos Santos, que também trabalhava
na Folha da Tarde e era acusado de ligações com a ALN, preso também em 04 de
novembro de 1969, o jornal igualmente “antecipou” a data da demissão para o dia
anterior para descaracterizar o vínculo com a empresa. A matéria sobre a prisão
de Rose e José Maria informava no título que “Contra a subversão, polícia arma
jogo de paciência”. A empresa sabia que as prisões tinham motivação política e
ainda assim carimbou as demissões em suas fichas funcionais como “abandono” e
“dispensado”, sem maiores explicações. No
período, em 05 de novembro, foi preso o fotógrafo Carlos Penafiel, que
trabalhava na Folha da Tarde, o que não evitou o tratamento policialesco da
notícia sobre sua detenção: “Terror: prisão preventiva para jornalista implicado”,
dizia o título da matéria, que também citava Rose e Luis Roberto como
integrantes da ALN próximos a Marighella. Outros dois jornalistas da Agência
Folha, Sérgio Gomes da Silva e José Vidal Pola Galé, presos em outubro de 1975
por ligações com o PCB, também amargaram meses de prisão, e tiveram seus nomes
citados numa matéria de duas páginas de 23 de dezembro, com o título “DOPS
arrasa bando do nazismo vermelho” onde o jornal divulgava uma lista de
“comunistas” com idade, nome dos pais, data de nascimento, estado civil e
endereço residencial completo dos suspeitos. Só que ignorava que trabalhavam no
jornal ou no grupo. Preso
entre 05 de outubro de 1975 e 05 de abril de 1976, Sérgio seria demitido em
janeiro também por abandono de emprego enquanto esteve encarcerado. Solto,
tentou reaver o emprego, mas diz ter sofrido assédio moral do então diretor da
Agência, o delegado Luiz Carlos Rocha Pinto, e pressão do diretor do
departamento pessoal do grupo, Antônio Pison, para que se demitisse. Os
pesquisadores também apontam perseguição política da Folha na demissão de um
grande número de jornalistas que participaram da greve de maio de 1979 por
melhores salários. O SNI, que monitorou o movimento, informou que dos 128
demitidos de vários veículos, 43 eram do Grupo Folha, enquanto o Sindicato dos
Jornalistas de São Paulo sustentou que na verdade teriam sido 64.
Folha
e o “milagre”
A
trajetória do grupo mostra, segundo os pesquisadores, que o apoio à ditadura
teria proporcionado expansão e crescimento da Folha já no chamado milagre
econômico, entre 1968 e 1973, período em que o jornal estaria mergulhado na
mais intensa fase de colaboração com os militares. No final desse ciclo a Folha
iniciava um tímido distanciamento para, em meados da década 1980, sob o comando
do filho do dono, Otavinho, implantar o Projeto Folha, marcado por mudanças
internas e uma guinada forte na linha editorial. Em
1984, o jornal engajou-se na linha de frente da campanha pelas Diretas-Já,
estratégia que lhe rendeu o papel de protagonista e porta-voz dos anseios pela
redemocratização do país. Não foi uma transição sem ruído: no dia 1º de
setembro de 1977, um texto considerado ofensivo à imagem de Duque de Caxias,
publicado pelo colunista Lourenço Diaféria forçou Octávio Frias de Oliveira, pressionado
pelo então chefe da Casa Militar do governo, general Hugo Abreu, a pedir que
seu então diretor de redação, o jornalista Cláudio Abramo, se demitisse para
serenar uma das poucas crises registradas até então entre o jornal e a
ditadura. O
texto, “Herói. Morto. Nós.”, comparava um sargento que morreu ao se jogar num
poço de ariranha para salvar um menino a uma estátua de Duque de Caxias, na
qual populares urinavam, o que foi considerado uma ofensa punível com a prisão
do jornalista e de fechamento do jornal caso a coluna continuasse sendo
publicada em branco. Frias de Oliveira cedeu e, segundo anotam os
pesquisadores, “decidiu afastar o chefe da redação Cláudio Abramo e tirar o seu
próprio nome do cabeçalho do jornal”. Abramo foi substituído por Boris Casoy,
escolhido por seu bom trânsito na área militar à época, conforme admite o
próprio jornalista na entrevista aos pesquisadores. Reprodução/Coluna
“Herói.Morto.Nós” de Lourenço Diaféria (no canto direito da imagem)
O
relatório da Unifesp destaca que o jornal chegou ao fim da ditadura com
identidade reformulada, o que permitiu que se tornasse o veículo impresso de
maior circulação do país, alcançando um recorde de tiragem com mais de 1,5
milhão de exemplares. “Não se trata apenas de uma história de sucesso
empresarial. Seu crescimento esteve estrategicamente ligado aos interesses do
regime”, diz Ana Paula Goulart. Em 1974, entre o encerramento do governo Médici
e início do mandato de Geisel, Frias de Oliveira foi chamado pelo general
Golbery do Couto e Silva, eminência parda nos dois governos, para discutir o
processo de distensão e, é claro, o crescimento da Folha diante de seu
principal concorrente, o Estadão, algo que interessava ao regime. Naquele
momento o lucro líquido da Folha havia dobrado em relação a 1973, e nos anos
seguintes, até 1977, triplicaria, saltando, em valores da época, de Cr$
47.564.807 para Cr$ 210.844.987, conforme balanços acessados pelos
pesquisadores. Em valores atuais, pelo IGP-DI, o montante do lucro de 1977
equivale a mais de R$ 330 milhões. O
material sobre a Folha com documentos e testemunhos faz parte de um relatório
enviado ao Ministério Público Federal e que pretende servir de base para ações
de reparação a vítimas da repressão na ditadura militar. “Um dos objetivos era
reunir elementos, indícios e provas para que o MP pudesse abrir ações
judiciais, inquéritos ou procedimentos administrativos contra essas empresas”,
diz Edson Teles, coordenador do projeto pela Unifesp/Caaf.
Reprodução/Resposta
publicada pela Folha sobre a trajetória do grupo na ditadura no último domingo,
2 de julho
Outro
lado
Procurado
pela Agência Pública no dia 23 de junho, o superintendente do Grupo Folha,
Carlos Ponce de Leon não quis dar entrevista. Pediu, através de sua secretária,
que as perguntas fossem enviadas. As respostas chegaram apenas na tarde de
sexta, 30 de junho. Dois dias depois, a Folha publicou “Documento abordará
trajetória do Grupo Folha na ditadura”, em duas páginas do caderno “Ilustrada
Ilustríssima” do domingo, 2 de julho. A
matéria da Folha antecipou a posição do jornal em “resposta” a esta reportagem
que ainda não havia sido publicada, procedimento estranho ao próprio manual da
Folha e que não explica os questionamentos sobre os principais pontos da
pesquisa da Unifesp abordados pela reportagem. Eis
a íntegra da nota do Grupo Folha encaminhada à Pública: “Os
temas das perguntas enviadas, que versam sobre um período já distanciado no
tempo, deram ensejo a indagações parecidas no passado e hoje são objeto de uma
investigação de historiadores, sob os auspícios do Ministério Público Federal,
para a qual a Folha tem colaborado, franqueando aos pesquisadores amplo acesso
à documentação remanescente que esteja em seu poder. Foram também objeto de extensa
apuração empregada pelo próprio jornal, cujos resultados têm sido publicados em
suas páginas e em livros nas últimas décadas. Embasado numa dessas apurações,
por exemplo, o então diretor de Redação, Otavio Frias Filho, respondeu em 2018
ao blog do jornalista Fernando Morais sobre a acusação de que carros do jornal
teriam sido utilizados pelo aparato de repressão da ditadura. Escreveu
então: “Em 2011, solicitei que uma pesquisa exaustiva fosse realizada para
esclarecer o episódio. Seus resultados constam do livro ‘Folha Explica a Folha’
(2012; págs. 49 a 61), da jornalista Ana Estela de Sousa Pinto. Não
foram encontrados registros que comprovem essa utilização nem nos arquivos da
ditadura, nem nos jornais clandestinos mantidos pela luta armada na época. A
acusação se baseia no depoimento de dois militantes presos que afirmaram ter
visto veículos do jornal no prédio do DOI-Codi (Vila Mariana, SP). Os atentados
terroristas contra veículos da Folha, praticados pelo grupo ALN, ocorreram
quatro dias depois da morte pela repressão do guerrilheiro Carlos Lamarca no
interior da Bahia, sugerindo que o motivo do ataque foi a cobertura, bastante
hostil, que a Folha da Tarde fez daquele fato. A
Folha sempre afirmou que, se a cessão de veículos ocorreu, foi de forma
episódica e sem conhecimento nem autorização de sua direção”. A
Folha manterá a mesma disposição de publicar tudo o que saiba sobre essa época. GRUPO
FOLHA”
Esta
reportagem pertence ao especial As empresas cúmplices da ditadura militar que
revela 10 empresas que teriam algum grau de participação no aparato de
repressão que perseguiu, prendeu, torturou e assassinou opositores durante o
regime. A cobertura completa está no site do projeto.
Agradecimento à Agência Pública.
facebook.com/agenciapublica
|